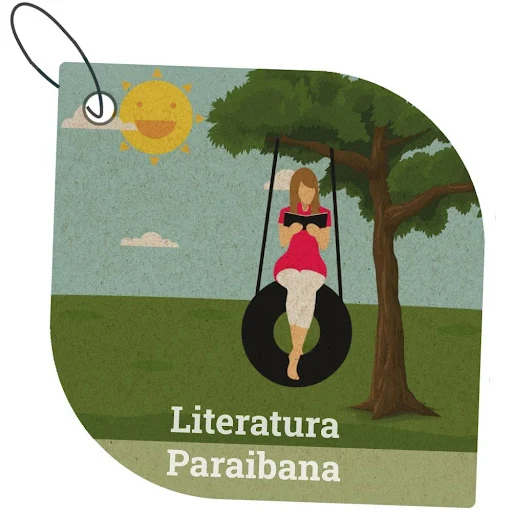O poeta Linaldo Guedes disse ter acordado cheio de perguntas. Despertou assaltado por questionamentos sobre a validade da classificação “literatura paraibana” e “literatura regionalista”. Considero sua inquietação válida e, sobretudo, preciosa, porque nos auxilia na busca de entendimento do problema, que, diga-se de passagem, está longe de ser resolvido ou de ter uma resposta a contento.
Há muitos modos de entender o sintagma Literatura Paraibana: literatura produzida na Paraíba, de modo indiscriminado; literatura produzida na Paraíba por paraibanos, literatura produzida sobre a Paraíba, por paraibanos ou não, na Paraíba; literatura produzida sobre a Paraíba, por paraibanos ou não, fora da Paraíba etc. O rótulo maior – Literatura Paraibana – é apenas a ponta de um iceberg classificatório, que deve ser utilizado como um recurso didático. Afinal de contas, embora as situações de alguns romances de José Lins se passem na Paraíba ou mesmo A bagaceira, de José Américo, ou ainda A pedra do reino, de Ariano Suassuna,
Quanto ao regionalismo, outra inquietação do poeta Linaldo Guedes, o questionamento diz respeito ao fato de que se considera José Américo de Almeida regionalista, enquanto José de Alencar, que também escreveu romances regionalistas, fica fora dessa classificação. Precisamos entender melhor a situação, que parece semelhante, mas que é diferente na essência e nos propósitos.
O Regionalismo literário não é novidade. Ele existe desde o século XVIII, sob a forma de nativismo, quando dois poetas brasileiros, Manuel Botelho de Oliveira, com o poema Silva à Ilha de Maré, e Frei Manuel de Santa Maria Itaparica, com o poema A Ilha de Itaparica, entendem de criar poemas exaltando as maravilhas da sua terra, ambos baianos. O Regionalismo se estende pelos séculos XIX e XX, mas sempre se mostrando com feição diferente.
O segundo Regionalismo vem com o Naturalismo, com obras como O missionário, de Inglês de Souza; Inocência, de Taunay, e Luzia-Homem, de Domingos Olímpio. Nesse momento, o cenário muda. O ambiente age sobre o homem, determinando o seu comportamento, de acordo com a influência da filosofia determinista de Hypolite Taine,
O terceiro Regionalismo é o que desponta com o Modernismo, a partir de 1928, tendo A bagaceira, de José Américo de Almeida como o romance iniciador do movimento a vir. A mudança de perspectiva é radical. O meio é adverso ao homem, mas não é o meio o responsável pela miséria humana. A miséria é produto de uma estrutura social injusta, que permite a exploração do semelhante, baseada no acúmulo do capital. O sertão seco não responde pela miséria que reduz o homem a um vivente ou o rebaixa a um animal, como vemos em Vidas secas, de Graciliano Ramos. A responsabilidade se encontra na estrutura fundiária atrasada. É emblemática a frase de José Américo, no prefácio de A bagaceira – “Antes que me falem”:
“Há uma miséria maior do que morrer de fome no deserto: é não ter o que comer na terra de Canaã.”
O problema não é não ter o que comer numa região duramente atingida pela seca, no caso o sertão, mas passar fome numa terra de fartura como é o brejo. Este doloroso e desumano paradoxo revela-se, no livro de José Américo de Almeida e nos demais que compuseram programaticamente o Regionalismo.
Trata-se, portanto, no Modernismo, de um Regionalismo Social, que redescobre um Brasil escondido, que não aparecia na Literatura, distanciado do mundo urbano, que sempre frequentou a preocupação dos escritores, e expõe a ferida da exploração.
Entendamos, por fim, que, contrariamente, ao regionalismo programático de 1928 em diante, José de Alencar não se propôs a fazer uma obra que refletisse literariamente a sua região ou determinada região do Brasil. O que ele idealizou e, sobretudo, realizou foi o planejamento de uma obra literária que lesse o Brasil, na sua história, na sua geografia, na sua formação. Saindo do período anterior à chegada dos portugueses à nossa terra (Ubirajara) e culminando
Compreendo, portanto, que, mesmo que quiséssemos nos livrar da pecha da classificação e adotássemos apenas o termo Literatura, não teríamos resolvido a questão, pois estaríamos lançando mão, ainda uma vez, da classificação, tendo em vista que há textos que classificamos como não-literatura... Por outro lado, a inquietação vale não só para a questão “Por que literatura paraibana?”, ela vale também para “Por que literatura brasileira, francesa, inglesa, alemã...?”. Em outras palavras não sei como poderíamos nos livrar da classificação, a não ser a usando com critérios que devem ser bem esclarecidos. Mas eu mais uma vez, sei que o poeta Linaldo Guedes sabe disso e que apenas nos lançou uma inquietação-provocação, que eu aceitei de bom grado.