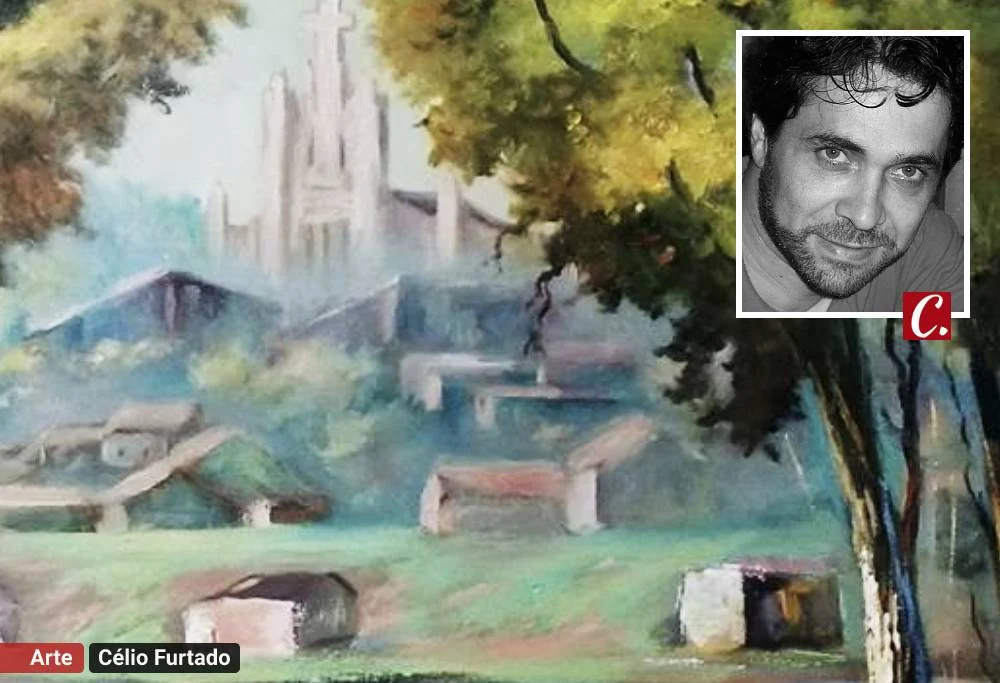Meu avô se chamava Samuel Furtado e morava numa casa simples, ladeada com a nossa, na praça Barão do Rio Branco, que virou Cláudio Furtado. Era alto, forte, alvo e tinha a cabeça branca.
Também era conhecido pela generosidade e o pequeno comércio que possuía: uma bodega situada no famoso beco de Raja.Estendia suas mãos grandes para segurar as nossas, e lá íamos nós, ele feliz e displicente, e nós agoniados com seus passos lentos. A primeira parada era em Jocão, um vendedor de verduras que ficava na esquina.
— “Bora vô!”
Ele se despedia, mas em vez de tocar para o nosso destino, atravessava a praça para falar com Belinha, comerciante muito simpática e antiga, famosa por vender cigarros avulsos, entregues ao freguês por um concriz criado solto na mercearia e que, a pedido, também cantava trechos do hino nacional.
Depois nos sentíamos perdidos porque, vizinho, ficava a barbearia de Benedito Alves, e ali estavam o Diário de Pernambuco e seus amigos, entre eles João Vino, Gentil Palmeira, Jeremias Venâncio e Bibi Barbosa. Ficava proseando enquanto voltávamos para nos encantar com o passarinho e um papagaio que dizia: “Belinha, tem gente!” — sempre que chegava alguém.
Depois de muita insistência nos dava as chaves. “Tome, vão abrindo que já chego.” Ficávamos radiantes porque a posse das chaves era tudo para nós, que tínhamos apenas sete e oito anos de idade.
Descíamos a rua Estreita rodando o chaveiro no indicador - cada um levava um pedaço - num orgulho de quem já era bem crescido.
Muitos pediam explicações sobre assuntos diversos que meu avô dominava bem, como ditadura, governo Kennedy e a guerra do Vietnã.
Ele jamais teve grandes pretensões na vida, nem se preocupava imitar os ícones da época nem os líderes políticos locais que lhe batiam à porta em busca dos votos da família numerosa. A leitura lhe bastava, parentes e amigos completavam a vida sossegada numa Cuité arredia e insular, separada do resto do mundo.
Certa manhã estava na barbearia e já se levantava para sair quando ouviu um “ Tá cedo, Samuel! “ — dito pelo barbeiro Benedito Alves. Meu avô endireitou a camisa e retrucou: “ Preciso abrir a bodega senão não tenho como criar os filhos!”. Foi quando João Vino interveio, com as mãos apoiadas na bengala: “ Já é quase meio dia, Samuel. É melhor almoçarmos.”
Minha avó se chamava Eutália e morreu um ano antes de eu nascer. Inverso e complemento do meu avô, era uma mulher contida, conscienciosa, de olhar ofensivo, embora tivesse a alma luminosa, como o sol que via inundar de luz o verde da serra de Cuité.
Dona Eutália era conhecida pela determinação e a mania de sair em defesa dos mais pobres. Certa vez, vendo-se insatisfeita com a postura elitista dos organizadores de um bloco carnavalesco nos anos 50, o “ Só vai quem pode “, arrumou adereços, comprou tecidos, foi pra máquina de costura. Fez fantasias e estandartes, e criou o “Quem não pode também brinca.”
Minha avó tinha saído para rezar. Chegou em casa e se deparou com os filhos tomando banho dentro do tanque que servia de reserva. Seus olhos deram uma expressão de censura que fez paralisar até mesmo o silêncio. As crianças remeteram a culpa ao pai, que autorizou a “farra do tanque”.
— Samuel, está certo autorizá-los a acabar a água?
— Olhe para cima, está escuro e vai chover forte. Amanhã, se Deus quiser, o tanque estará cheio outra vez.
— Ensinando seus filhos a jogarem fora tudo que têm, vão crescer sem o senso do limite e vão viver de esperanças e incertezas, e amanhã serão pobres como nós. Não quero isso para eles.
Minha avó entrou e foi cuidar do almoço. Na manhã seguinte não choveu, como ele esperava. As nuvens encobriram o sol, trouxeram o rouxinol, esperanças para ele, incertezas para ela.
Naquela semana toda a água que se viu brotar saiu dos olhos de minha avó. Sua tristeza refletia a dúvida do futuro dos filhos. Meu avô continuou cheio de esperanças; ela, cheia de incertezas.